Maluda, a pintora que veio do oriente com uma luz no olhar...
“Vim do Oriente, onde nasce a luz; passei por
África, onde aprendi a amar a vida; cheguei à Europa, onde estudei pintura na
cidade das luzes; depois fixei-me em Lisboa. Gradualmente refiz o percurso
labiríntico em direção à luz. Cada passo revela, à sua maneira, esse jogo de
sombras e de luz que é a vida e a morte, a sabedoria e a ignorância. Eu pinto.
É uma aventura que não troco por nenhuma outra.”
"Os quadros de Maluda são um
hino, um louvor à vida, ou seja à construção do abrigo humano".
(Maria Helena Vieira da Silva)
"… Para Maluda o mais acertado adjetivo é “independente”. Independente
do mundo e da fortuna era ela – do mundo das artes e das suas tricas, do da
fortuna delas, com seus truques. Maluda não tinha “marchand” nem fazia
exposições comerciais, e só na Fundação Gulbenkian, por obrigação de bolseira,
em 1973 e 1981, ou também na Fundação, em Paris, em 1988. A coletivas não
comparecia e a prémios também não. E, porém, vivia da pintura como poucos
artistas viviam no Portugal de então. É que Maluda (com uma secretária sua
amiga) ia registando encomendas para os quadros que pintava e, por serem poucos
ao ano, no perfeccionismo da sua pintura, iam pondo colecionadores à espera,
sempre por conhecimento uns dos outros. E muitos deles, até aos anos 80, em que
quase abandonou tal prática, eram de retratos.
O retrato é género de má fama por causa de dois famosos artistas do seu
tempo, um que “esmaltava damas” e outro que “merdinava Excelências”, e desde
Almada e Soares, Manta, Eloy e Botelho, não tinham ele consideração crítica,
por práticas pouco decentes. O resultado vê-se hoje em dia, quando, na galeria
dos reitores da Universidade Nova de Lisboa, o melhor retrato (de Alfredo de
Sousa) é da Maluda (e creio que em Coimbra também), ou na da Assembleia da
República, o único bom (Victor Crespo) é da Maluda, igualmente muito sendo de
lamentar que ela não tivesse recebido encomenda para a galeria presidencial de
Belém. Maluda pintava quem pintava ou queria pintar, com valores plásticos
seguros e expressão psicológica entendida, mesmo que solenizada. Creio que só
aceitou pintar um retrato por fotografia, do então falecido Aquilino Ribeiro –
e pediu-me que a ajudasse a pôr-lhe a expressão que não soubera, disso
resultando que, num canto de tertúlia desaparecida na Bertrand, tivesse tido
presença o grande escritor.
Pintando retratos ou as suas paisagens “de régua e esquadro”, Maluda
trabalhava diariamente como um operário – cedo levantada, de manhã, e até pelas
seis da tarde. Após o que o serão era dela e dos amigos, de conversa, whisky e
noitadas aqui ou ali, com fados de preferência (e em casa da Amália, por
amizade comum). Quando a conheci, em Paris, em 1963, as noites estavam a ser na
famigerada Régine, em que Maluda era convidada permanente. Não eram essas as
minhas preferências parisienses e, antes então, os bailes de Robinson (ó
populismo de Carné!) em que ela não comungava… Mas víamo-nos de dia, e íamos de
sítio em sítio, até aos fins de semana em casa-atelier do Vasco Costa, na
Dauberie – quando ela nos batia, aos dois (e aos três, com o António Dacosta)
ao ping pong, em que era terrível…
 |
| Monte Alentejano, 1982 |
Assim no retrato, nunca à moda de ninguém, assim nas paisagens lisas de
cor, sem atmosfera que lhes perturbasse as linhas – “porque geometrizar é a
mais sensível das operações em que intervém uma permanente invenção, controlada
e controlante” (escrevi eu em 1973), e podia acrescentar que a “atmosfera” é
uma convenção do impressionismo, que não é obrigatória… Assim também, se
acrescentaria, para as janelas que, em cerca de 1980, começou a pintar, a essa
pintura pondo fim quando dela se fartou – com muitos colecionadores à espera.
Ali (escrevi também, em 1981), “através das vidraças, como through the
looking glass, o mundo de Maluda torna-se o mundo de Alice”, dentro e fora
do mistério das fachadas. Melhor do que eu, disse, então o Alexandre O’Neill,
amigo de ambos, em soneto:
“Esta janela é uma
finta, é uma jogada
no xadrez de quem a pinta e assina”…
no xadrez de quem a pinta e assina”…
…Maluda acreditava na amizade, como eu acredito, e foi certamente por
isso que, indo morrer, me pediu que criasse um prémio para jovens pintores,
para que deixou fundos. E concordou que o Fernando Azevedo nisso me ajudasse,
com a Sociedade Nacional de Belas Artes, amigo dela também, que tão bem sabia
ver a sua pintura. O “Prémio Maluda” foi, assim, durante quatro anos, em 1999 e
até 2002, uma generosa memória da pintora – último aceno dela a uma vida
artística que, de bem, sempre, com a vida que queria, e a arte que fazia,
preferiu marginar. Fazendo ela, a dita vida artística nacional, muito mal em
não lhe entender a oferta plástica (e poética) que lhe trazia. No mistério das
suas janelas que, a par do O’Neill, um certo MacPherson cantou:
“De Lisboa as
janelas suficientes
brilham do Sol que nelas sempre dá,
escondendo as casas por trás ausentes
todas as casas que por trás não há
brilham do Sol que nelas sempre dá,
escondendo as casas por trás ausentes
todas as casas que por trás não há
que cada uma delas
“dá e mente / o retrato que lá pôs toda a gente”.
Ou “no frio lirismo de uma paisagem tão fisicamente inventada que só
por dentro se entende também”. Da sua janela da Rua das Praças, Maluda viu
estas paisagens, nitidamente, até morrer."
(Prefácio de José-Augusto França para o livro “Maluda”)
"Os pintores do silêncio são
também os melhores intérpretes da musicalidade: a recusa interior à
estridência, ao excesso, e o seu modo próprio de invocar a harmonia; o que,
para não se perderem no afogamento banal da sentimentalidade, lhes exige uma
procura laboriosa, racionalizada à beira da frieza, de uma ordem. Esta ordem
permanece assim estruturalmente enquanto o visível se vai organizando como espetáculo,
no silêncio e na sua harmonia. Penso na pintura de Maluda e em como ela me
parece gerar se e perfazer se assim, entre uma rigorosa metodologia da medida e
a entrega apaixonada às tentações visuais. Desde a Grécia, pelo menos, que a
nossa cultura de ocidentais conhece e manobra os prazeres da disciplina que
rege, esteticamente, aquela reunião difícil: a geometria.
As regras da harmonia, as regras
do espaço organizado onde se contém o lugar de cada coisa e a sua medida na
relação entre todas as coisas, onde as paixões obedecem como formas, não ao
excesso em que raivosamente se deformam, mas ao equilíbrio em que melhor se
aquietam, foram desde sempre procedimentos do desenho e da pintura que a
geometria tutela. A arte de Maluda vem pelo amor do visível, do concreto, até à
disciplina do abstrato, do estrutural geométrico que interiormente suporta a
compreensão ordenada do visível. Nesta relação que não é nunca uma carpintaria
recoberta de cenário, uma cidade é tanto apreensível pela sua geometria, quanto
a geometria se pressente porque a cidade lhe dá carne e o sentido. São
situações simultaneamente construídas, inteligíveis não em sucessão ou
alternativa mas num tempo harmónico percorrível num olhar, ou convidando à
disponibilidade do passeio interminável por linhas, pontos de fuga, planos
coloridos que, identificados, serão ruas, horizontes azuis,
telhados rouge de venize,
fachadas brancas, espessas de cal. Uma paisagem de Maluda obedece tanto
ao ritmo construtivo como à memorização visual e, no entanto, se fosse possível
sobrepor o seu desenho à forma do real de onde parte, ver se ia como está, sem
lhe ser infiel, para além dessa forma de ver o imediato, como estrutura numa
grelha abstrata, complexa de linhas e de planos, uma grelha rítmica percorrida
de oblíquas, de paralelas, de rimas na vertical e na horizontal, de planos ora
próximos, ora longínquos. Os jogos de claro-escuro, empenas, triangulação de
telhados, tornam se as pausas necessárias ao encaminhar da luz pelas veredas
geométricas.
Nessa pintura, não há vazios para
a anedota dos tipismos, nem tão pouco há nela o improviso do pitoresco. Não se
entra nela pela vénia afável das figuras, nem acena sequer à expressão. Não
procuremos, assim, nelas a melancolia embora não se nos torne estranha alguma
solidão. Não procuremos ver também a pura alegria porque, mesmo ao sol plano, à
luz doirada, há sempre uma sombra da cor da terra que, pouco a pouco, se
insinua. Lisboa tem em Maluda um dos seus pintores eleitos. Outros houve como
Botelho e Bernardo Marques que perceberam quer o seu demorado pitoresco, quer a
graça; ou Vieira da Silva que a adotou no enredo azulejado do seu espaço dramaticamente
moderno. Maluda, porém, foi quem viu que, em Lisboa, a luz age sobretudo em
planos, a cidade se constrói plano a plano, e se encaminha por uma espécie de
vértice perspetívico para o seu último ecrã luminístico, o Tejo azul. Viu que,
em Lisboa, há uma luz própria que nela se consome e expande, uma luminosidade
magnífica, mas viu que essa luminosidade não é atmosférica. Cada coisa tem
sempre o seu lugar e mantém a sua forma até que a luz se extinga. Por isso, a
grelha construtiva que criou para irradiar e sustentar a pintura se acerta pela
planificação da cor para distinguir as formas. E a razão porque o naturalismo
que se julga haver, não existe na pintura desta artista; nenhuma distração
interrompe aquilo que nela é, ou se poderia chamar de discurso clássico: a necessidade
de estilo e do prazer inteligente da ordem.
Esta estrutura ordenada torna se
ideal para a clareza exigida pelas técnicas da impressão, particularmente a da
serigrafia. Técnica absoluta da cor plana, muitas das imagens da pintura de
Maluda passaram a ser interpretadas, e divulgadas também, nesse processo,
posterior no ocidente pelo menos à gravura em metal e à litografia. Certamente
por gosto da época e por ser dos que menos obrigam o artista ao esforço
oficinal, este processo é dos mais utilizados hoje. Maluda tem criado imensas
imagens identificadoras de Portugal, escolhendo paisagens, sítios, ajustados ou
que a pintora ajusta à sua intuição geométrica e ao seu rigor construtivo, O
Alentejo, como o Algarve aceitam tão igual e admiravelmente como Lisboa a
paleta sóbria, mas luminosa e colorida na sua unidade ao mesmo tempo deliberada
e sensível; descobrem se diferentes, entre ritmos semelhantes, silêncios também
e inesperadas perspetivas. Por sua vez, entre a pintura e a serigrafia, Maluda
permanece. Quase não há esforço de redução técnica, a imagem mantém o seu rigor
de desenho e a pureza lírica transparece na justaposição planificada da cor. Só
a seriação, por vezes, faz acontecer a evidência do processo.
 |
| Janelas, 1973 |
As suas “janelas” por exemplo,
onde a pormenorização é exaustiva e recreio guloso dos olhos, têm tido
excelente tradução gráfica. As “janelas” de Maluda mais do que um tema são bem
uma entrega sua à poética citadina do ornamento urbano, ornamento popular como
um uso, neste caso, mas singular como uma descoberta. A entrega da pintora constitui
um gosto amoroso de desvulgarização do quotidiano. A janela é apenas um
vão antes de ser investido na qualidade de função e de ornamento que resta no
pano completo da fachada. Depois, torna se a moldura onde virão a recortar¬ se
o espaço interior quando vista de fora, ou o espaço exterior, modulado em
extensão, quando é usada pelo lado de dentro. A janela lisboeta, sobretudo,
prolonga pela sua existência fora a nossa tradição “voyeuriste”, a tradição de
uma cidade que se esconde e que se espreita. A mesma que a pintora lhe
reconhece ao surpreende-la, refletindo entre rideaux preciosos e antigos,
entreabertos sobre as portadas, uma vida exterior passageira e silenciosa.
Maluda descobre num elemento arquitetónico que tem por destino o repetir
se, o que o isola e individualiza, mas fá lo sem recurso, nesse ensaio de
personalização, à anedota, ao capricho, ao que possa comprometer a limpidez, o
essencial do desenho, o seu comportamento arquitetónico na fachada da casa, no
decorrer da rua. A atenção da artista e uma perscrutação de vida, um enunciado
de vida numa espécie de pequeno palco vertical semicerrado; entre dois espaços
de existência de que a janela é o plano para a transparência e para a
opacidade. Tudo está descrito, outro rigor não poderá ser maior do que aquele
que faz: belos azulejos emoldurando lindíssimos ferros de sacada, verdes e
delicadas persianas de ruas antigas, guarnições, lintéis, tudo. Tudo está
descrito. E mais a luz. A luz que organiza o dentro e o fora, para lá e para cá
da vidraça; a bandeira que ainda espelha a nesga de azul do rio e a outra
margem, o amarelo familiar do carro elétrico que se dobra passando nas
cortinas; a complexidade dos espaços sobrepostos em que a intimidade se iguala,
subitamente, à rua, numa imagem de espaço contínuo, único, infinitamente
múltiplo, versátil e humano. Cidade toda feita de janelas… onde cada janela dá
e mente/o retrato que lá pôs a toda a gente, como no poema que Alexandre
O’Neill dedicou às janelas de Maluda e me apetece citar aqui, porque ninguém
disse melhor do que o poeta o que pintora então havia feito.
Maluda tem aceite responder
também a proposições de outros temas na sua obra gráfica. Particularmente
aquelas que os C.T.T a convidaram a realizar destinadas à criação de selos. A
pintora soube tratar esses temas com uma singularidade objeta que os tornou,
depois do necessário envolvimento gráfico e funcional, belas imagens do
mundo filatélico, esse mundo especialíssimo, ao mesmo tempo da mais ampla trajetória
universal e do maior secretismo colecionista, tanto de moeda viajeira e hábito
de desatenção quotidiana, como de avaliação histórica, estética e museográfica.
Escola do gosto, não tem sido nada pequena, sabe se, a contribuição portuguesa
para que este gosto persista, continue a valorizar se constantemente e seja um
meio sensibilizador na convivência planetária. As séries, “Quiosques” e “Faróis”
de Maluda, são recentes, respetivamente de 85 e de 87 e conjugam lindamente o
inventário com a pedagogia patrimonial: O seu possível insólito, como
mobiliário urbano, torna se desejável, através da nitidez, do preciosismo da
redução lúdica, na primeira série, e na estranheza da dimensão onírica de
solidão oceânica dos objetos da segunda. Num e noutro caso, do pequeno selo, no
objeto real há um caminho de olhar e um tempo de ver. Como costuma ser habitual
com a arte verdadeira que existe para mostrar o que depois se ama. Poderia
dizer se o mesmo da arte de Maluda.
(Texto de Fernando de
Azevedo, incluído no catálogo da exposição “Maluda, Obra Gravada”, no Fórum
Picoas, Lisboa, janeiro de 1989)
Bibliografia:
Catálogo da exposição "Maluda, Obra Gravada"
RIBEIRO, Carlos, 'Maluda', Editora Ianus, 2008
_____________________________________________________________________
Joana Vasconcelos, uma manta de retalhos
Joana Vasconcelos nasceu em Paris em 1971, onde os pais e família se refugiaram vindos de Moçambique. Após o 25 de Abril regressaram a Portugal, a Lisboa, onde ainda vive e trabalha.
Formou-se na ArCo-Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa, entre 1989 e 1996.
Foram muitos os prémios, trabalhos e exposições que constam da sua biografia.
Portugal tardou, ainda tarda a compreender Joana Vasconcelos: depois do seu sucesso no estrangeiro, a sua arte peculiar começa finalmente a ser aceite entre nós.
Recentemente, realizou uma exposição individual no Palácio de Versalhes, em França, constituindo a primeira mulher e a mais jovem artista a expor neste local histórico. Marcou presença na Bienal de Veneza de 2005, com A Noiva, apresentada na entrada do Arsenale no âmbito de Always a Little Further, uma das exposições deste evento. Em Veneza, apresentou também Contaminação, que ocupou o hall do Palazzo Grassi no contexto da exposição The World Belongs to You, que reuniu obras da coleção da Fondation François Pinault. Do seu percurso, destacam-se ainda exposições individuais em instituições como o Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto), Centro Andaluz de Arte Contemporâneo (Sevilha); Passage du Désir/BETC EURO RSCG (Paris); The New Art Gallery Walsall (Walsall); Pinacoteca do Estado de São Paulo (São Paulo); Es Baluard (Palma de Maiorca); Museu Coleção Berardo (Lisboa); e Kunsthallen Brandts (Odense).
Presentemente, o Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, tem patente até final de agosto de 2013, uma exposição do seu ambicioso núcleo de obras, criteriosamente selecionado para a exposição – 38 obras -, que traduzem sensivelmente a última década de trabalho da artista, reunindo peças icónicas, como 'A Noiva', 'Coração Independente Vermelho', 'Marilyn', ou 'Jardim do Éden' e outras mais recentes, nunca expostas em Portugal, como 'Lilicoptère', 'Perruque', 'A Todo o Vapor', ou 'War Games'. (http://www.joanavasconcelos-pnajuda.pt/).
Ainda presentemente, marca presença em exposições coletivas com ‘Ca' The Yowes: Contemporary Mixed Media Exhibition’, no Robert Burns Birthplace Museum, Alloway (Escócia) e ‘Flesh and Blood’, no Museum on the Seam, Jerusalém (Israel).
Futuramente, de junho a novembro de 2013, representará Portugal na 55ª Exposição Internacional de Arte - La Biennale di Venezia, em Veneza, com Trafaria Praia, uma cacilheiro de Tejo. (http://www.vasconcelostrafariapraia.com/).
Permanentemente, a sua obra encontra-se espalhada por Portugal, França e Arménia:
-
'Néctar’, no Museu Coleção Berardo, Lisboa
- 'Kit Garden’, no Largo do Intendente, em Lisboa
- ‘Jardim Bordallo Pinheiro’, no Jardim do Museu da Cidade, Lisboa
- ‘Portugal a Banhos’, na Doca de Santo Amaro, Lisboa
- ‘Cactus’, no Fórum Almada, Almada
- ‘Cinderela’, no Troia Design Hotel, Troia
- ‘Sr. Vinho’, no Mercado Municipal de Torres Vedras, Torres Vedras
- ‘La Théière’, no Le Royal Monceau, Paris
- ‘Pavillon de Thé’, no Cafesjian’ Center for the Arts, Erevan
Joana Vasconcelos é uma artista de corpo e alma portuguesas, contemporânea e que consegue aliar o tradicional/popular ao erudito; a emoção, repetição, sinuosidade e excesso do barroco ao uso de objetos do quotidiano transformado em arte e irreverência artística.
Fá-lo de uma forma única e muito pessoal, como numa manta de retalhos onde a parte e o todo se entrelaçam, como se nunca tivessem vivido uma sem a outra. Na sua produção criativa, apropria-se, descontextualiza e subverte objetos banais do quotidiano, com humor e curiosamente sem prescindir do sentido de belo. As suas criações (esculturas / instalações) revelam um domínio extraordinário da escala, da relação com o espaço envolvente, da cor, das texturas. Em simultâneo recorre a fotos, vídeos, convoca o nosso imaginário e transforma tudo numa obra viva, táctil, mutante, com movimento, som e talvez cheiro, enfim, orgânica. Apela aos nossos sentidos, sentimentos e envolve-nos na cena: grande parte das suas obras são para ser tocadas.
A sua obra, dadas as dimensões e a sua escala, vive do espaço onde é exposta. Relaciona-se e depende tanto do espaço envolvente que este pode aniquilar a sua forma se não for adequado. A obra molda-se e adapta-se ao contexto arquitetónico, desde que este tenha a escala, forma, cor e textura capazes de formar um pano de fundo coeso com a obra.
Joana Vasconcelos é uma mulher contemporânea. A contemporaneidade trouxe-nos a globalização, a identidade líquida, o sentimento de efemeridade, a sociedade de consumo, a velocidade dos meios de comunicação. Contrariando muitos artistas que fugiram, na sua vida e na sua obra, à sociedade em que viviam, Joana Vasconcelos cria com o que observa na sociedade global atual, de forma quase caricatural. Aproxima-se do “ready-made” do dadaísmo, na medida em que usa o objeto banal do quotidiano e trata-o como arte, mas também se afasta porque não rompe com esta sociedade.
Talvez o ”elemento-cola” da obra de Joana Vasconcelos seja a arte popular: o nosso imaginário está repleto dela, mesmo que o neguemos ou consideremos de mau gosto ou piroso, mesmo que possamos considerar arte popular como baixa cultura em detrimento da “outra” considerada alta cultura!
Num tempo em que nos sentimos perdidos, sem referências, “globalizados”, pertencendo a todo o lado e a lado nenhum, as peças de Joana Vasconcelos reconciliam-nos com a nossa história, a nossa tradição, a nossa “identidade” porque conseguem conciliar o que aparentemente é inconciliável: O popular e o erudito!
Sedutora, exuberante, bem-humorada e irreverente, a obra de Joana Vasconcelos afirma-se como o antídoto que desperta os sentidos e desafia as rotinas programadas do quotidiano.
Bibliografia
Gonçalves, Albertino (2009), Vertigens para uma sociologia da perversidade, Vertigens do presente-A dança do barroco na era do jazz- p 35. Grácio Editor – Coimbra – Portugal
Boublés, Carole – Artpress, junho 2010, n. 308, artigo: Joana Vasconcelos – Musée Berardo -1er mars- 18 Mai 2010
(Trabalho elaborado por Germana Eiriz)
Ernest H. Brooks II, embaixador do ambiente marinho!
 Embaixador do ambiente marinho, fotógrafo, aventureiro, mergulhador e professor, Ernest H. Brooks II, nasceu para ser um fotógrafo. De ascendência portuguesa, rica em homens-de-mar-, seria difícil fugir à inevitabilidade do importante papel que o ambiente do oceano exerceria na sua vida. Filho de Ernest H. Brooks, fundador do ‘Brooks Institute of Photography’, Brooks estava destinado a seguir os passos do seu pai, durante parte da sua vida, antes de forjar seu próprio caminho. Formou-se no ‘Brooks Institute’, fez parte da equipa executiva da escola e em 1971 assumiu o cargo de presidente, cargo esse que ocupou até 2000, quando o instituto foi vendido ao ‘Career Education Corporation’, CEC. Ao longo de seu longo mandato como o presidente de ‘Brooks Institute’, exerceu as funções inerentes a esta organização corporativa, incluindo a participação em palestras internacionais, incentivando a educação fotográfica e promovendo a fotografia como uma linguagem universal. Ao longo do caminho, ao cumprir as responsabilidades do seu cargo, as suas conquistas rendem-lhe inúmeros elogios e prêmios.
Embaixador do ambiente marinho, fotógrafo, aventureiro, mergulhador e professor, Ernest H. Brooks II, nasceu para ser um fotógrafo. De ascendência portuguesa, rica em homens-de-mar-, seria difícil fugir à inevitabilidade do importante papel que o ambiente do oceano exerceria na sua vida. Filho de Ernest H. Brooks, fundador do ‘Brooks Institute of Photography’, Brooks estava destinado a seguir os passos do seu pai, durante parte da sua vida, antes de forjar seu próprio caminho. Formou-se no ‘Brooks Institute’, fez parte da equipa executiva da escola e em 1971 assumiu o cargo de presidente, cargo esse que ocupou até 2000, quando o instituto foi vendido ao ‘Career Education Corporation’, CEC. Ao longo de seu longo mandato como o presidente de ‘Brooks Institute’, exerceu as funções inerentes a esta organização corporativa, incluindo a participação em palestras internacionais, incentivando a educação fotográfica e promovendo a fotografia como uma linguagem universal. Ao longo do caminho, ao cumprir as responsabilidades do seu cargo, as suas conquistas rendem-lhe inúmeros elogios e prêmios.
Como educador / fotógrafo ganhou reconhecimento internacional para a fotografia subaquática e áudio / visual de apresentação. Como um trabalho profissional, ele contribuiu para diversas revistas e organizações, incluindo: Cousteau Society, California Highways, Ocean Realm, Monterey Bay Aquarium, Nature Conservancy and Natural Wildlife, para citar apenas algumas. Foi um recetor de inúmeras homenagens e prêmios, pelo seu compromisso de vida e dedicação aos nossos oceanos.
Brooks tem sido pioneiro no desenvolvimento de equipamento fotográfico subaquático e técnico. Embora tenha aproveitado e implementado muito do que a nova tecnologia proporciona e numa época em que se destacam um grande número de fotografias coloridas subaquáticas ele, surpreendentemente, favorece o preto e branco. O oceano e fotografia subaquática estão entre seus principais interesses. Na busca de imagens dramáticas marinhas, ele desceu às águas fascinantes sob as calotas polares, bem como para as profundezas de quase todos os oceanos da Terra.
O seu trabalho foi exposto no Metropolitan Museum of Art, Monterey Bay Aquarium Shark Exhibit, Yugoslavia 'Man in the Sea,' Our World Underwater, Smithsonian 'Planet Earth', entre muitos outros locais de destaque. É um membro da Professional Photographers of America e é um dos 40 fotógrafos do mundo admitidos para o prestigiado Camera Craftsmen of America. Como líder ou membro principal, Ernest H. Brooks II tem participado em projetos de reconhecimento internacional, incluindo: a investigação fotográfica para Shroud of Turin e foto-documentação das atividades de pesquisa do Ártico. Foi, ainda, o líder do projeto e membro do painel internacional no 'Focus on New Zealand' , evento em 1985, e liderou uma pesquisa fotográfica e expedição de viagens para o Mar de Cortez a bordo de embarcação de pesquisa do Instituto, "Only Love", em 1986.
Ficam, aqui, as suas palavras:
"A fotografia é muitas coisas para muitas pessoas, e para mim tem sido um veículo para novas terras, um meio de auto-expressão e uma porta de entrada para a aventura. Ela sempre esteve na minha vida. O oceano e fotografia subaquática estão entre os meus principais interesses e, na busca de imagens dramáticas marinhas, eu mergulhei sob as calotas polares e em quase todos os oceanos da Terra. Não há como negar que a fotografia pode ser excitante, desafiadora e gratificante, de formas varidadas.
Ao longo dos anos, tenho testemunhado uma tremenda mudança no campo da fotografia. Desde os dias da câmara escura a preto e branco, onde as imagens eram desenvolvidas em produtos químicos, para finalmente aparecer numa declaração intemporal, até ao dia atual, onde os avanços tecnológicos têm proporcionado ferramentas que levam o olho além da câmara escura, num maior domínio da intenção e expressão fotográfica. Aprendi a amar o artesanato, a sua arte, e o tempo muito particular e pessoal que é preciso para perseguir a perfeição.
Muito antes de nossa própria existência, o homem esculpia a grandeza da sua existência na pedra, pintado as suas visões sobre tela e seus ensinamentos sob a forma de textos escritos. Como fotógrafos, nós capturamos apenas um breve período de tempo.
A fotografia oferece-nos as ferramentas para esculpir com a luz, para pintar com texturas e formas e volumes, para escrever numa única imagem, através da criação de indeléveis, impressões duradouras de onde estamos, quem realmente somos e onde o nosso futuro nos pode levar. O registo da história do homem e da natureza mudou para sempre.
As palavras não conseguem expressar adequadamente o silêncio do movimento, que a fotografia pode. No início, deliberadamente escolhi o processo de preto e branco por causa de suas qualidades de arquivo e da capacidade de exibir qualidades únicas de luz como simples valores, um processo que tem fascinado o olho humano desde sempre."
Bibliografia:
BROOKS, Ernest H, 2003, Silver Seas: A retrospective, Media 27
Webgrafia:
http://erniebrooksea.com/thephotographer.html
(Trabalho elaborado por Germana Eiriz)
Bibliografia:
BROOKS, Ernest H, 2003, Silver Seas: A retrospective, Media 27
Webgrafia:
http://erniebrooksea.com/thephotographer.html
(Trabalho elaborado por Germana Eiriz)
PINA BAUSCH – A CORPOREIDADE COMO VEÍCULO DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA/CULTURAL
Georges Vigarello (2003) afirmou que as conceções sobre forma, valores, funcionamento e utilizações corporais revelam indícios importantes de como as pessoas se referem ao seu corpo, o habitam e o interrogam em determinada cultura e época. Assim, cada geração, cada contexto estético re(inventa) a sua própria cultura corporal, assumindo a corporeidade humana um fenómeno social, um motivo simbólico, objeto de representações e imaginários que o homem desenvolve a cada instante e que lhe permite ver, ouvir, saborear, tocar, falar, enfim sentir e assim colocar significações no mundo que o rodeia. Moldado pelo contexto social e cultural em que o homem se insere, o corpo é o portador da relação que estabelece com o mundo que rodeia. Através do corpo, o homem apropria-se da sua vida traduzindo-a para os outros através dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da comunidade, inserindo o seu corpo num dado espaço social e cultural.
Assim, as novas categorias cénicas que surgiram no decurso do século passado não podiam passar ao lado desta nova abordagem da corporeidade humana. A dramaturgia da dança, dramaturgia do corpo, dramaturgia da fisicalidade, surge então no final dos anos 70 e aparece na dança teatro de Pina Bausch com os seus bailarinos do Wuppertaler Tanztheater. Com eles, Pina Bausch cria um novo método de trabalho baseado num ‘interrogatório’ verbal e gestual a que submete os seus bailarinos, até à exaustão, na procura da simplicidade gestual. Nos seus ensaios colocava milhares de perguntas aos bailarinos, algumas mesmo muito pessoais, às quais se seguiam centenas de propostas de improvisação de forma a trazer os próprios bailarinos para a peça. Ela queria o coração deles, as suas personalidades fortes!
 Pina Bausch tanto fazia perguntas como adiantava temas. Anne Matin, uma das suas bailarinas, afirmava: “Pina pedia seis movimentos para cada pergunta. Por exemplo: ‘o que fazes quando te sentes atrapalhado?’ Era preciso responder com seis gestos diferentes. Em ‘1980’, muitas vezes dava-nos títulos, por exemplo: ‘o chá das cinco’. Deste tema nasceu a ideia de Lutz (um outro bailarino) exclamar, em inglês, com a pronúncia mais britânica possível, apresentando-se diante do público com um tabuleiro cheio de chávenas e um bule fumegante: ‘o chá está pronto’, e de seguida circulava na plateia, servindo chá autêntico aos espectadores.”
Pina Bausch tanto fazia perguntas como adiantava temas. Anne Matin, uma das suas bailarinas, afirmava: “Pina pedia seis movimentos para cada pergunta. Por exemplo: ‘o que fazes quando te sentes atrapalhado?’ Era preciso responder com seis gestos diferentes. Em ‘1980’, muitas vezes dava-nos títulos, por exemplo: ‘o chá das cinco’. Deste tema nasceu a ideia de Lutz (um outro bailarino) exclamar, em inglês, com a pronúncia mais britânica possível, apresentando-se diante do público com um tabuleiro cheio de chávenas e um bule fumegante: ‘o chá está pronto’, e de seguida circulava na plateia, servindo chá autêntico aos espectadores.”
Outras vezes, Pina Bausch inspirava-se diretamente na vida quotidiana dos seus bailarinos, no que faziam, ou diziam, no modo como se mexiam, mesmo fora das horas de trabalho, passadas em conjunto. Dado que faziam uma vida de grupo constante, Pina Bausch tinha muito tempo para os observar, mesmo nos momentos de descanso, quando não se sentiam interpelados profissionalmente. Segundo Janusz Subicz, um outro bailarino: “Pina trabalhava sempre, até nos momentos aparentemente mais distendidos. Quando estávamos sentados à mesa, no restaurante, sentia que ela continuava a trabalhar, pelo modo como nos olhava. Observava a maneira com que um de nós mexia um dedo, fixava outro que ria ou falava, encantava-se repentinamente com um gesto qualquer.(…)”.
As suas obras são o resultado direto das suas experiências – íntimas, diárias, passadas, presentes, recíprocas ou solitárias – e das de cerca de trinta pessoas que trabalhavam em conjunto. O corpo dos bailarinos, os seus movimentos diários, passavam do seu quotidiano para o palco, que acolhia o corpo como o próprio material artístico, como o meio de expressão direto de um dado tempo, de um espaço. Um palco e em frente o público, que ela queria incluir também. Os dançarinos conversavam com os espectadores, andavam pelas filas de cadeiras e ofereciam chá e café. Esta era a sua visão de um teatro que comunicava, que não dançava apenas, mas também cantava, falava, ria e gritava. Pina Bausch criou, assim, um teatro dramático e arrebatador que era, ao mesmo tempo, uma forma de dança dramática e visceral, uma forma de arte do instante. Era o aqui e agora, algo que provinha dos corpos dos bailarinos, das pessoas que estavam ali à frente, espalhadas pelo palco. Bailarinos como pessoas – esta foi a sua maior revolução.
Os trabalhos da coreógrafa alemã atravessam as relações humanas, o movimento era baseado no vocabulário e gestos do quotidiano, e assentava essencialmente na articulação de diferentes linguagens. Questões relacionadas com o género eram uma constante nas suas peças, debruçando-se sobre aspectos como o antagonismo entre sexos e fixando-se nas relações de poder e modelos de domínio. Assim, explorava ao mínimo detalhe a dinâmica arrebatada, combativa e interdependente, entre homens e mulheres, em diversas linguagens corporais determinadas pelos seus bailarinos, todos de expressão extraordinariamente individual. As mulheres de cabelos compridos, poderosas, exóticas, de formas e tamanhos variados e os homens igualmente diferentes em aparência e tamanho executavam movimentos repetitivos, obsessivos e fastidiosos repetidos ao longo de várias horas, como diálogos comportamentais entre os dois sexos. Caminhando, dançando, caindo, empertigando-se, homens e mulheres seguravam-se uns aos outros e atropelavam-se, acariciando-se e torturando-se mutuamente em cenários extraordinários. Em contextos e cenas distintas, a relação entre o homem e a mulher surgia quase como uma obsessão, a mulher que corria para o homem e o beijava, e que depois recuava para voltar a avançar. Aos homens eram essencialmente atribuídos papéis de agressores, perseguidores, controladores e violadores. Por oposição, as mulheres eram normalmente as vítimas, perseguidas, castigadas, despidas, violadas e aterrorizadas. No entanto, estes estereótipos e classificações de géneros iam sendo desconstruídos ao longo das peças.
Em Arien (1979), em que o palco estava coberto por alguns centímetros de água, que condicionava todos os gestos e movimentos dos bailarinos, pesando gradualmente nas dinâmicas, envolvendo as formas, definindo os contornos, as figuras pareciam cada vez mais exaustas, cada vez mais encharcadas e desesperadamente envolvidas num jogo que se tornava coercivo. A ironia do conjunto era teimosa e perversa, os ritos sociais, continuamente repetidos com poderoso distanciamento artístico: o exibicionismo arrogante dos homens que se travestiam de mulheres, a deformação brejeira das mulheres, pesadamente maquilhadas pelos homens até se transformar em máscaras simiescas desesperadamente absurdas.
Os espaços de eleição para as dramaturgias coreográficas de Pina Bausch e como lugar das suas danças estava intimamente ligado à cidade, primeiro em espaços de concentração, focados sobre parte fundamental da vida urbana, depois como que alargando o foco de ação à cidade, às cidades. Assim surgiram as criações coreográficas: ‘Viktor’(Roma/1986), ‘Palermo, Palermo’ (Palermo/1989), ‘Tanzabend II’ (Madrid/1991), ‘Ein Trauerspiel’ (Viena de Áustria/1994), ‘Nur Du’ (Califórnia/1996), ‘Der Fensterputzer’ (Hong Kong/1997), ‘Masurca Fogo’ (Lisboa/1998), ‘Wiesenland’(Budapeste/2000), ‘Água’ (São Paulo/2001), ‘Nefés’ (Istambul/2003), ‘Rough Cut’(Seul/ 2005), ‘Bamboo Blues’ (India/2008) e ‘...como el musguito en la piedra ay si si si...’ (Chile/2009). Estes trabalhos surgiram após uma incursão de semanas consecutivas (normalmente três) com as comunidades locais como forma de gestação dos seus espectáculos. Por todo o lado recolhia imagens, gestos e usos com que depois encantava, através da sua técnica muito própria, semelhante à montagem de um filme. Assim ia produzindo, ano após ano, peça após peça, um cosmos da agitação humana, do seu movimento, sempre com a sua postura pessoal na voz: “O que me move não é saber como é que o Homem se move, mas o que faz mover o Homem”. Sem revisitações ou transposições de dados pitorescos dessas mesmas cidades, absorvia-as através de uma perspetiva muito pessoal, na sua habitual tensão horizontal da montagem, por uma sucessão de imagens sem desenvolvimento narrativo adotando um distanciamento impiedoso pronto a descrever o lado obscuro da paisagem observada. “Não quero monumentos, quero ver gente, muita gente”, exigia Pina Bausch. E assim, uma cidade observada e repensada tomava corpo, forma e estrutura. Parte da estranheza com que os públicos das cidades “eleitas” sentiam provinham do facto da coreógrafa e os seus colaboradores – cenógrafos, bailarinos, músicos – olharem a cidade de um ponto de vista que era diferente para cada cidade e que era singular em consequência do olhar da coreógrafa sobre o mundo e sobre a dança. Os seus espectáculos sobre as cidades nunca eram realistas, nunca eram exclusivamente sobre o mapa da cidade mas contemplavam sempre o que podia haver também de universal na singularidade de cada cidade.
Em ‘Viktor’, por exemplo, surgiu uma Roma turva e levantina, gerada por uma cultura mais madrasta do que materna, preguiçosa e dramática na consciência do seu passado e na conservação distraída das suas ruínas, imbuída de um sentido de morte, uma resignação mais generalizada do mundo relativamente à sua própria destruição.
Em ‘Palermo, Palermo’ apresentou uma visão coletiva fulgurante, a marcha de uma multidão absorta, silenciosa e tenaz, bem siciliana, que atira o lixo ao vento, como uma sementeira ritual urbana, uma espécie de apelo fertilizante a uma cidade que chora.
Em "Masurca Fogo", criada a partir de Lisboa, encontravam-se traduções coreográficas do marialvismo, da violência doméstica, da precariedade das relações humanas, uma inabilidade em lidar com o passado colonial, a alienação, o deslumbre insensato, o exibicionismo, a piada fácil, ou o "desenrascanço". A Lisboa de Pina Bausch era africana e os lisboetas, ou os portugueses, não foram muito disponíveis para reconhecer na profusão de alguidares de plástico coloridos manuseados e carregados à cabeça pelos bailarinos – um sinal civilizacional de grande evidência, onde os espíritos livres se encontravam na esquina de uma morna, e as cores ocidentais carregavam as marcas da sua ligação a África.
 Mas Pina Bausch não quis saber do que é Lisboa, como não quis saber de Palermo, de Roma, do Japão, de Viena, de Madrid, de Los Angeles, de Hong Kong, de Budapeste, do Brasil, de Istambul, de Seul, da India ou do Chile - sua obra póstuma. Em todos estes seus trabalhos, o que ela nos oferecia era a sua cidade/país imaginada. Pina Bausch transpunha a ideia de espaço vazio, usada para se referir a um espaço nu, sem referências explícitas, a-histórico. A única fronteira do seu processo de trabalho era o seu discurso, que usava a cidade como pretexto para criar.
Mas Pina Bausch não quis saber do que é Lisboa, como não quis saber de Palermo, de Roma, do Japão, de Viena, de Madrid, de Los Angeles, de Hong Kong, de Budapeste, do Brasil, de Istambul, de Seul, da India ou do Chile - sua obra póstuma. Em todos estes seus trabalhos, o que ela nos oferecia era a sua cidade/país imaginada. Pina Bausch transpunha a ideia de espaço vazio, usada para se referir a um espaço nu, sem referências explícitas, a-histórico. A única fronteira do seu processo de trabalho era o seu discurso, que usava a cidade como pretexto para criar.
O desenvolvimento mundial da dança-teatro resultou, assim, em muitas co-produções internacionais para a Wuppertaler Tanztheater, tornado o trabalho de Pina Bausch num teatro mundial, incorporando todas as colorações culturais e tratando todas as pessoas com o mesmo respeito. Era um teatro que pretendia criar uma experiência elementar da vida, onde cada espectador fosse convidado a participar junto com os dançarinos. Este teatro mundial era generoso, relaxado em sua percepção do mundo e completamente encantador para a sua audiência. Era um mediador entre as culturas, um mensageiro da liberdade e da compreensão mútua, livre de toda ideologia e dogma, observando o mundo sem preconceitos, reconhecendo a vida em todas as suas facetas, incorporando na sua dança teatro um humanismo que não reconhecia fronteiras.
Pina Bausch trabalhava essencialmente sobre a problemática da condição humana, confrontando o público com o amor, o ódio, a ternura, a tristeza, a agressividade, a solidão, a frustração, a infância, a velhice, a morte, a nostalgia, a memória e o esquecimento, numa clara aproximação entre arte e vida – o quotidiano – usando o corpo e a sua expressividade como meio de comunicação por excelência. O quotidiano surgia, assim, nas suas peças através dos elementos cenográficos e figurinos, assim como nos gestos que se desenvolviam a partir da interacção entre códigos pessoais e sociais.
Imagens de Pina Bausch do filme ‘Pina’, de Wim Wenders. Música de Jun Miyake, ‘The Here and After’.
BIBLIOGRAFIA
BRETON, David Le, 1953, A Sociologia do Corpo, Petrópolis, Editora Vozes
GOLDBERG, Roselee, 1988, A arte performance – do futuro ao presente, Lisboa, Orfeu Negro
BENTIVOGLIO, Leonetta, 1994, O teatro de Pina Bausch, lisboa, Acarte– Fundação Calouste Gulbenkian
PÁGINAS WEB
GERALDI, Sílvia Maria, O Estado de ser e não ser das artes performativas contemporâneas
http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/RevistaCientifica3/18_Silvia_Geraldi.pdf(aced. 8 de Dezembro de 2011)
OLVEIRA, Aline Mendes, Imagem e discurso cénico em Masurca Fogo, de Pina Bausch
http://www.portalabrace.org/vreuniao/textos/territorios/Aline%20Mendes%20de%20Oliveira%20-%20Imagem%20e%20discurso%20c%EAnico%20em%20Masurca%20Fogo%20de%20Pina%20Bausch.pdfFilmografia(aced. 15 de Dezembro de 2011)
FILMOGRAFIA
Pina, realização Wim Wenders
Filme, 2010, 99 minutos
Sonhos de Dança, realização Anni Linsel e Rainer Hoffmann
Documentário, 2010, 89 minutos
Pina Bausch Lissabon Wuppertal Lisboa, realização Fernando Lopes Graça,
Documentário, 1998, 35 minutos.
(Trabalho de Germana Eiriz)
"As Meninas"...
Figura 1 - Diego Velázquez, 'As Meninas', 1656
(pintura a óleo sobre tela, 321x181, Madrid, Museu do Prado)
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilha, 1599 - Madrid 1660), pintor espanhol do século XVII, foi um ilustre retratista e artista da corte Espanhola, no reinado de Filipe VI. Apesar de inserido no período barroco contemporâneo, Velázquez rompeu com os limites de seu tempo ao tornar-se referência para outros artistas de tempos atuais, incluindo os mais rebeldes e inovadores impressionistas, realistas e surrealistas. Em releituras várias, destacam-se como influenciados por ele grandes nomes contemporâneos, como por exemplo Pablo Picasso.
A sua obra-prima, “As Meninas” (Figura 1), é uma tela de proporções grandiosas (318x276cm), que se encontra, atualmente, no Museu do Prado, o mais famoso da Espanha e um dos maiores e mais completos museus da Europa. Velázquez ao utilizar os vários castanhos, os ocres e magentas, com os azuis e o claro-escuro produz uma relação simbiótica entre as tintas e a tela, com uma utilização peculiar dos pincéis, sem esquecer o predomínio da gama larga dos eternos cinzentos. É esta marca de mestre que torna a sua pintura tão intemporal como eterna, fixando para a posteridade num realismo e numa unidade plástica surpreendente, uma cena íntima palaciana da Corte Imperial de Filipe IV, levando-nos a entrar involuntariamente numa espécie de cápsula do tempo.
Esta pintura seria um simples retrato de família real, ou de como se vivia na Corte de Filipe IV, se não fossem alguns elementos adicionais que a tornam uma das mais estudadas obras de arte. Uma novidade introduzida por Velázquez foi incluir-se em lugar de relevo, na cena retratada – ele pinta-se em serviço, diante de um cavalete, com os seus objetos de trabalho em punho! Nas vestes da sua capa de veludo com manga de seda, vê-se a cruz da Ordem de Santiago que foi incluída na tela, somente após a sua morte. Ao seu lado está, centralizada, a infanta Margarida, personagem principal do quadro, parecendo levitar sob um feixe intenso de luz que transpõe uma portada lateral. Orbitando ao seu redor estão aquelas que seriam as suas amas, jovens e adultas, D. Isabel de Velasco e D. Agustina Sarmiento (que segura uma pequena jarra de barro numa bandeja de prata), pintadas praticamente em tamanho natural, numa postura protetora para com a princesa. Surgem ainda Maribárbola, uma anã alemã de vinte anos de idade, ricamente vestida e Nicolasito Pertusato, de família nobre italiana (apesar da sua fisionomia simular uma criança pequena já seria uma adolescente), divertindo-se com o cão deitado. Logo atrás surgem no meio da obscuridade, uma governante de serviço ou dama de companhia, Dona Marcela de Ulloa com vestes de monja, a conversar um cavalheiro não identificado, possivelmente o guarda-damas, Diego Ruiz de Azcona. Mais ao fundo um homem entra em cena e movimenta uma cortina, trazendo mais luminosidade à tela - o camareiro da rainha, D. José Nieto, fidalgo ao serviço da câmara-real que vai espreitando através do vão duma porta, no patamar das escadas. Os dois quadros visíveis nas paredes representam cópias de telas mitológicas de Rubens e Jordaens. Porém, para os mais observadores, o elenco não está acabado. Ao fundo, numa moldura, estará um espelho, onde surgem refletidos os reis de Espanha, Filipe IV e a sua segunda esposa e sobrinha, Mariana de Austria. Essa visão muda a ideia de que Velázquez se preparava para pintar a Infanta e as outras companheiras – parece agora que o pintor olhava para os reis e as meninas apenas assistiam à cena, como testemunhas daquele ritual. O uso do espelho, embora não exclusivo de Diego Velázquez, aumenta a subjetividade, e as controvérsias sobre quem seria, de facto, retratado.
A figura central ao ser a infanta Margarida explica-se pelo facto de que, até aquele momento, a menina seria a herdeira do trono espanhol – a sua irmã mais velha estava para se casar com o rei da França, o que a excluía da herança, e seu irmão mais novo, que viria a herdar o trono, ainda não tinha nascido – e, por isso, a verdadeira poderosa naquele reino. Em simultâneo o pintor dá a si próprio muito destaque. É visível que ele é a figura mais alta (e também mais independente) na imagem. Estaria, assim, reclamando destaque social.
As mil facetas da obra-prima de Diego Velázquez revelam também as várias roupagens do pintor. Como disse Tolnay, “’As Meninas’ são como um manifesto sobre a pintura como arte liberal.” Por vezes estudado como simples retratista, Velázquez mostra-se, a cada nova interpretação, um ícone da arte no seu mais puro sentido – a subjetividade e a riqueza da releitura. Um dos elementos responsáveis por sua canonização artística pode ter sido essa subjetividade que imprimia em cada obra. Tratando de auto-retratos ou mesmo representações de outros, o pintor deu sempre a pincelada ambígua, que traz interpretações várias até os dias de hoje. Fica sempre uma réstia de dúvida sobre o que quis dizer Velázquez.
O quadro ‘As Meninas’ provoca admiração, múltiplos comentários e muitas reações, desde as grandes interpretações matemáticas, astrológicas, morais, políticas e até outras diferentes análises sobre o estilo, grau de criatividade artística e inventiva da obra. Jonathan Brown enquadra a sua interpretação no âmbito do ilusionismo Barroco, isto é, Velásquez ao reproduzir o ambiente onde se desenrola a ação, pelo controlo subtil de luz e sombras, produz um efeito de ilusão, suspenso entre a arte da pintura e a realidade. No quadro ‘As Meninas’ o final da narrativa pictórica parece estar mais além do que simplesmente se observa, isto é, são pinturas estruturadas num contexto em aberto, por uma nova organização do espaço que requer a participação ativa e atenta do observador sobre a intenção e sentido da composição, dando assim azo à especulação e interpretação de cada um.
‘As Meninas’, também encerra outro enigma que à primeira vista pode passar despercebido! Uma das meninas oferece à infanta Margarida uma bandeja com um pequeno púcaro de barro, normalmente utilizado para se beber água por ele. Mas porquê um objeto tão simples e rústico, na intimidade de um aposento real da Corte mais poderosa do mundo? Pode-se avançar com uma explicação terapêutica para a época. A infanta Margarida sofreria de puberdade precoce, sinal de um síndrome de McCune-Albright. Assim, para limitar as anormais hemorragias era comum na altura para obstruir os vasos sanguíneos, mastigar argila ou beber determinadas águas que serviam de remédio para uma possível cura.
Além dos dois casos de nanismo - Maribárbola e Nicolasito Pertusato – e do possível síndrome de Albright da infanta Margarida, há a registar uma outra patologia que acompanhou como uma maldição a dinastia dos Habsburgos ao longo dos séculos. O casal refletido no espelho, os reis de Espanha, Filipe e Mariana de Áustria (tio e sobrinha) aparecem aqui inequivocamente com a característica morfológica, típica desta família – o lábio de Habsburgo - causada por sucessivos casamentos consanguíneos ao longo de gerações, por um princípio de conservação da pureza do sangue em famílias da aristocracia.
Confrontar ‘As Meninas’ de Velázquez (1656) com ‘As Meninas’ de Picasso (1957) é procurar o que as pinturas desses dois artistas espanhóis têm de proximidades e de afastamentos enquanto representações do mesmo tema, embora em tempos e espaços distintos.
Em quase cinco meses de trabalho intenso, entre 17 Agosto e 30 de Dezembro de 1957, Picasso fez uma análise minuciosa, uma reinterpretação e uma recriação de ‘As Meninas’, de Velázquez. O conjunto de cinquenta e oito obras de Picasso doado ao Museu Picasso - Barcelona, em 1968, é composto por quarenta e quatro interpretações inspiradas pela pintura de Velázquez, nove cenas de pombos (figuras 20 a 28) , que descrevem o pombal ele tinha instalado no seu estúdio sobre a sua casa ‘La Californie’, em Cannes, onde pintou a série inteira, três paisagens (figuras 56 a 58) e duas interpretações livres, ‘O Piano’ (figura 42) e ‘Retrato de Jacqueline’ (figura 59).
A interpretação de Picasso desta pintura é um estudo abrangente de cor, ritmo e movimento, como um constante jogo de imaginação, que metamorfoseou as personalidades de vários componentes da obra. No entanto, a lealdade e o respeito ao ambiente de trabalho de Velázquez são evidentes ao longo de todas as composições. O tratamento de luz, o volume de espaço e perspetiva desenvolvida pelo pintor Sevilhano, Velázquez, é conservada ao longo de toda a análise do conjunto, embora ele, Picasso, use procedimentos muito diferentes.
Figura 3 - Composição de conjunto de ‘As Meninas’
(17/08/1957, pintura a óleo sobre tela, 194 x 260 cm, MPB 70.433)
Este trabalho (figura 3) é cronologicamente o primeiro da série, onde Picasso fez uma interpretação pessoal do trabalho de Velázquez, como um todo. Aqui estão os mesmos personagens da obra de Velázquez, mas, quer a estética quer os elementos da composição do quadro têm uma forma diferente. Por um lado, altera os planos de formato vertical para horizontal e a sua escala, esta menor que a original. A horizontalidade na obra de Picasso dá maior destaque à situação presente na cena, uma vez que se mostra como um plano mais tátil, de perceção mais imediata, o que é conseguido através da imersão do observador no campo visual da tela quando dela se aproxima. Com isso, Picasso modifica o grande vazio que paira acima dos personagens na obra original, integrando figura e fundo a partir de moldes cubistas e da conceção de que também o vazio deve ser encarado como um objeto palpável. Assim, Picasso introduz uma linguagem moderna, permitindo que as figuras e o espaço possuam a mesma substância e variem em tamanho, o que enfatiza a liberdade criativa do artista. Assim, se no quadro de Velázquez tudo girava em torno da infanta Margarida, na obra de Picasso, embora a infanta continue a ter um papel essencial, o mesmo acontece com a figura do pintor, que é representado numa forma desproporcionada, que ao expandir-se verticalmente, vem reforçar o ato da pintura enquanto criação artística, adquirindo, assim, um papel mais importante, ou seja, reforçando a ideia de que o mais importante toda a criação da arte é o criador. Aqui, se o pintor está ainda colocado à esquerda, o cavalete e ele próprio ocupam agora um bom terço e quase toda a altura do quadro. Estão mais evidentes. É o triunfo de uma vontade única: a de Picasso. O artista pode dispor dos meios de representação com toda a liberdade. Se Velázquez se retratou porque queria ser nobre, Picasso enfrenta a tela para formular a idéia de sua própria versão do tema, isto é, a posição específica do artista na sociedade liberal moderna. O tema para Picasso é a desconstrução da representação que se desdobra nas relações do artista com a sociedade e desta com a arte. O que ele propõe é não-narração. Velázquez e Picasso auto-retratam-se ao mesmo tempo em que levantam uma discussão sobre o lugar da representação. O que é um pintor? O que faz um artista? Picasso obriga-nos a olhá-lo como já Velázquez o fizera. O jogo da representação tanto nos coloca como objeto, exterior ao quadro, como sujeito entre o que é real e o que é representado.Outra diferença substancial é o tratamento de luz e cor. Uma variação, um efeito directo sobre o brilho da imagem, são as grandes janelas que se abrem para a direita, que no original de Velázquez permanecem fechados. Isto contrasta com a ausência de brilho da cor, que é apresentado nas interpretações que se seguem.
Picasso deixa a primeira variação (figura 3) inacabada e inicia outras telas, porém de menores proporções, analisando, principalmente, a figura central no quadro original, a infanta Margarida. Vale ressaltar que das cinquenta e oito variações que Picasso realizou da tela ‘As Meninas’, catorze focalizam unicamente a infanta. No entanto, entre todas as interpretações referentes à infanta, Picasso faz uma rápida mudança de foco e dedica uma variação a uma de suas damas, Maria Agustina Sarmiento (figura 4).
Figura 4 - Variação de Maria Agustina Sarmiento de ‘As Meninas’
(20,26/08/1957, pintura a óleo e traços de lápis vermelho sobre tela, 46 x 37,5 cm, MPB 70.435)
No conjunto da série esta variação é a única que apresenta esse tipo de tratamento sinuoso aplicado aos contornos da personagem e com ela Picasso dá os primeiros sinais sobre seu interesse pela construção singular dos rostos, algo que será amplamente estudado nas versões da infanta. Desde a segunda variação, datada de 20 de agosto de 1957, até o dia 6 de Setembro daquele ano, Picasso dedicou-se intensamente à exploração da imagem da infanta.
No entanto, é também nesta data que a série toma novos caminhos, voltando-se a outro tema no interior da série principal: ‘As Pombas’, formada por um conjunto de nove obras (figuras 20 a 28). ‘As Pombas’ são representações de uma parte do segundo andar do ateliê de ‘La Californie’, mais especificamente da janela perto da qual Picasso criava os seus pombos, tanto que nessas obras podemos ver gaiolas e poleiros. No mesmo dia em que Picasso pinta sua última versão das ‘As Pombas’ prossegue com a série central de ‘As Meninas’, retornando a um retrato de corpo inteiro da infanta Margarita (figura 29).
Figura 29 - Variação da Infante Margarida de “As Meninas”
(14/09/1957, pintura a óleo sobre tela, 100 x 81 cm, MPB 70.459)
Esta última variação da infanta é uma síntese dos aspetos das suas várias versões anteriores. Com ela Picasso alcança a síntese máxima em relação à conjunção das faces. Aqui ele fusiona os rostos de Maria Agustina e de Maribárbola com o de Margarita. Dessa forma, mais do que um rosto frontal que carrega o seu próprio perfil e posição em três quartos, Picasso estaria a fundir três identidades distintas num mesmo corpo. Esses rostos múltiplos presentes nas variações da infanta também evidenciam um pensamento muito importante de Picasso no seu percurso artístico, como refere Steinberg: “É como se Picasso tivesse, desde o início, tornado o olho responsável por todo o problema da tridimensionalidade na superfície. A perspectiva deliberada daquele órgão único lança o primeiro desafio à homogeneidade da perspectiva na representação”. Ele conclui ainda: “Os olhos e os narizes são os primeiros avisos de Picasso de que a consistência do velho sistema deve ser abalada pela intrusão de aspectos alternados”.
A execução da série somente findaria em 30 de dezembro de 1957, porém, após ter alcançado o seu clímax, o interesse de Picasso em manter o seu foco vai decaindo e culmina numa variação de pequenas proporções com a imagem de Isabel de Velasco (figura 60).
BIBLIOGRAFIA:
http://www.museodelprado.es/
http://www.museupicasso.bcn.es/
http://www.youtube.com/watch?v=REWbbsN8BFg&feature=my_liked_videos&list=LL9xlEafyiEzrb6hMdXAaRCQ
Amanda Sangy Quiosa, 'As meninas de Velázquez: a representação da representação'.
João Maria Nabais, 'A arte do retrato n'As Meninas de Velazquez'.
Ingo F. Walter, 'Pablo Picasso - O Génio do Século'
(Germana Eiriz)
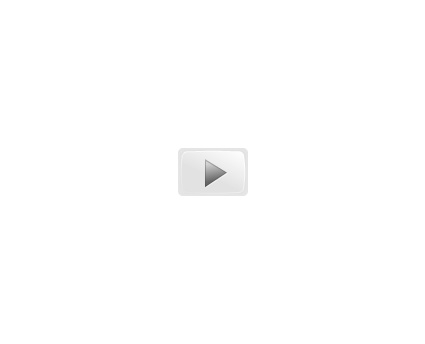













Sem comentários:
Enviar um comentário